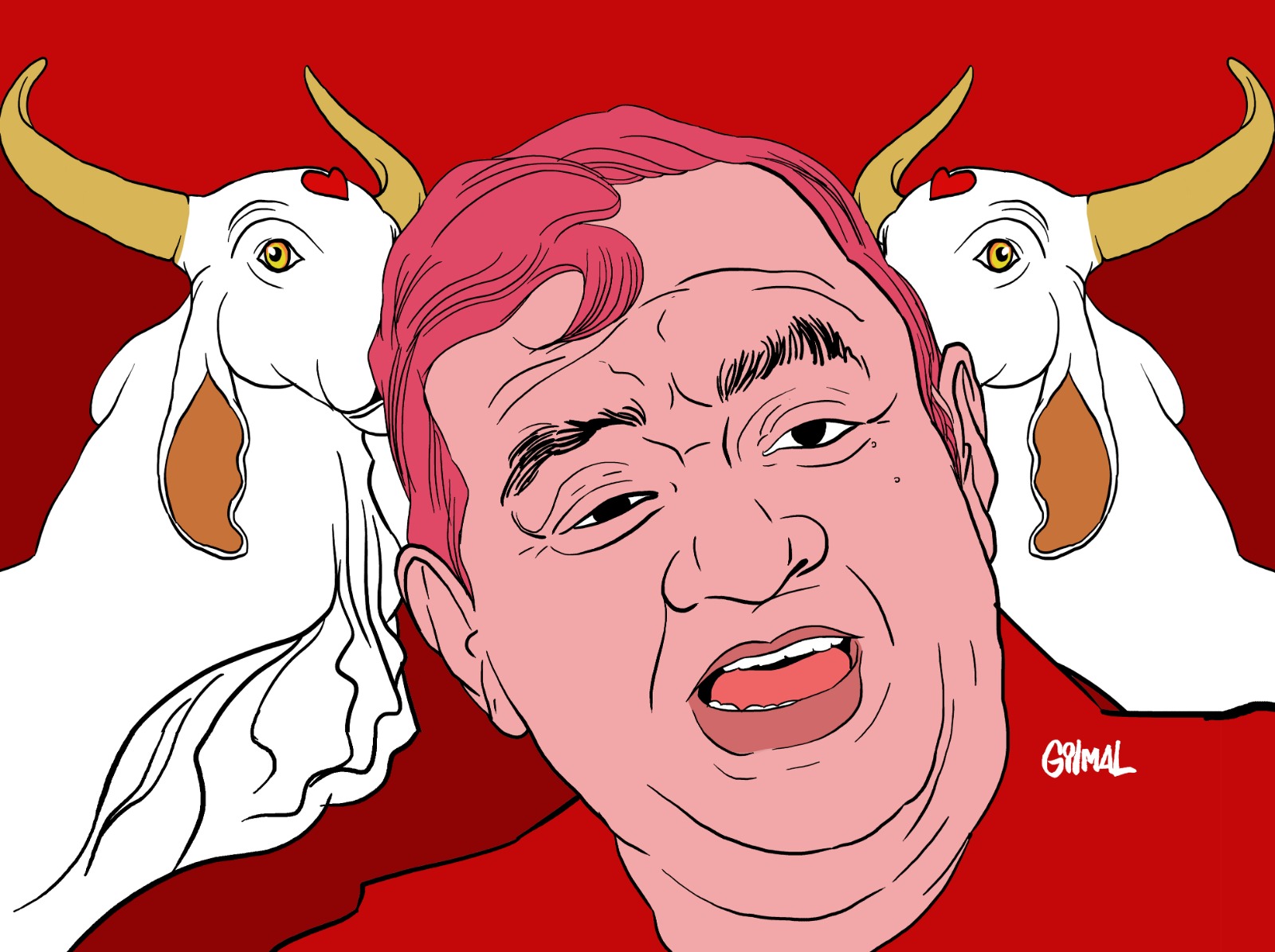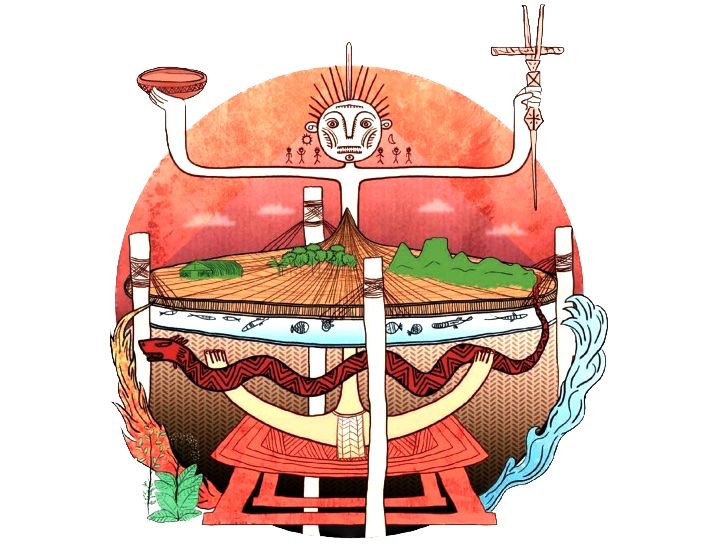#TOADAS
20.06.25 • 13h14min
Do barracão ao galpão no festival de Parintins